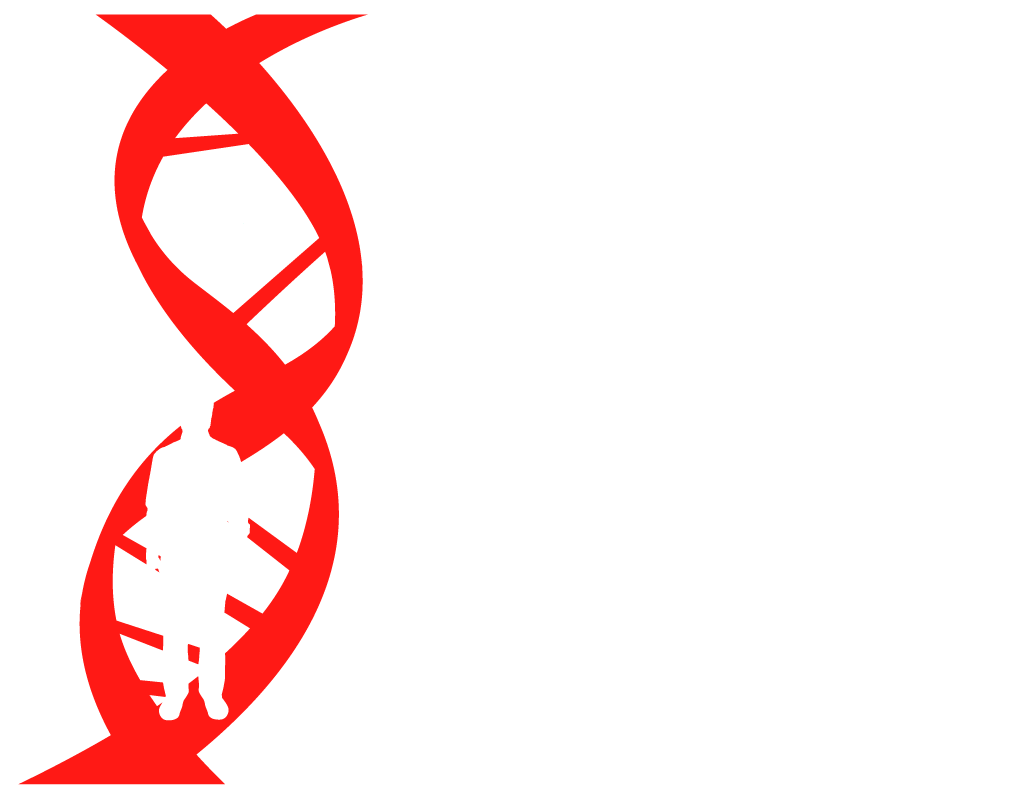Diretora Artística
Atores
Figurino
Trilha Sonora
Fotografia
Diretora de Produção
O Pai, de August Strindberg
“Como saber o que se passa no cérebro dos outros?”
Ao pesquisar August Strindberg, largamente referendado como o Shakespeare da Suécia, nos deparamos com inúmeras qualificações e inferências: realista/naturalista, simbolista, expressionista? Em qual estética, movimento ou gênero enquadrá-lo? Misógino, machista, livre pensador? Mas na visão e entendimento de muitos pesquisadores e estudiosos, mais do que enquadrá-lo ou encaixá-lo em gavetas estéticas e morais, o importante é verificar sua atualidade ao longo de mais de um século, e na atualidade: estes tempos em que tantos de seus temas são ainda discutidos dos salões acadêmicos aos parlamentos das democracias. Strindberg inspirou outros autores durante seu tempo e pelo século XX. Foi também inspiração declarada do cineasta Ingmar Bergman – especialmente em seu Cenas de um Casamento. E finalmente, influenciou trabalhos teóricos de pensadores como Georg Lukács, Peter Szondi e Raymond Williams, referências que precisam ser visitadas e citadas.
Em primeira análise, o pesquisador Luís Paulo da Silva aponta que O Pai se encontra no que mais tarde viria a ser conhecida como dramaturgia do eu, devido ao seu forte apelo subjetivo. Do ponto de vista da ‘carpintaria teatral’ é uma sucessão de cenas criadas com o objetivo de encadear fatos e acontecimentos aparentemente banais reverberados em conversas familiares típicas do século XIX, de conteúdos quase prosaicos. Ao mesmo tempo, tudo depende do raciocínio lógico de um só indivíduo – o Capitão Adolf,
“homem que só conhece seu próprio ponto de vista, ele é a estrutura que verdadeiramente sustenta a ação e, por isso mesmo, tudo o que é mostrado se passa apenas na visão desse personagem central – o desencadear dramático depende de um olhar subjetivo, não tem existência objetiva. Além disso, diferentemente do que acontecia na tragédia antiga, em O Pai não vemos um herói que participa de uma comunidade no interior da qual transcorre a ação, mas sim um herói cristalizado e desviado de qualquer correspondência com o mundo entendido enquanto totalidade; a única totalidade encontrada é aquela vivida pelo personagem central.” (Luís Paulo da Silva)
Strindberg com O Pai rompe com as ideias da tragédia e mesmo do drama canônico (aquele que nasce com o Renascimento e se consolida em Shakespeare, se perpetuando até o século XX no drama burguês da pós-industrialização) problematizando questões que, pouco tempo depois, indicariam estéticas modernas como o simbolismo e o expressionismo. Peter Szondi, em meados do século XX, numa de suas mais importantes dissertações sobre o moderno drama, anuncia que Strindberg abalou as estruturas da dramaturgia convencional em várias de suas peças e, ainda que de modo aparentemente convencional e discreto, o fez em O Pai. Tal subjetividade viria a se aprofundar em obras posteriores. No ano de 1886, Strindberg declararia: “acredito que a descrição integral da vida de um homem é mais verdadeira e reveladora que a da vida de uma família inteira.” E prosseguiria questionando a capacidade de um autor sobre “como saber o que se passa no cérebro dos outros, como conhecer os motivos encobertos do ato de um outro, como saber o que este e aquele disseram em um momento de confidência?” Strindberg conclui dizendo que só se conhece uma vida, a sua própria; um único ponto de vista. E, em termos de estrutura dramatúrgica, é desta maneira que a obra sobre o conflito entre pai e mãe se organiza. É uma história até certo ponto simples, um tanto folhetinesca aos nossos olhos: um casal que vive um conflito abalado pela ideia de paternidade – nunca uma certeza na vida de um pai daquele momento histórico – em que ambos, mãe obstinada e pai empedernido, entram em disputa feroz pela educação e destino da filha. O Capitão Adolf, que abandonara um futuro de sonhos e luxo para se envolver com as questões prosaicas da vida na caserna, dedica-se como válvula de escape a certos delírios científicos. Esse homem se encontra, em suas próprias palavras, cercado por mulheres que em sua opinião são incapazes de gerir as suas vidas e escolhas: a sogra (personagem inexistente na ação e que vive demandando cuidados enquanto influencia a neta para uma vida de atividade espírita), a velha criada da casa que fora sua babá e hoje tenta ser uma espécie de conselheira mas que para ele está no fim da vida, a filha que deseja ser artista e se divide entre as várias opiniões da casa sobre seu destino e, por fim, a esposa Laura que aparentemente em tudo depende do marido. Este emaranhado de perfis não chega a ter profundidade psicológica, são figuras que existem mais como objetos expostos do intimo do protagonista. Agregam-se ainda os três personagens masculinos da narrativa: o pastor Jonas (representante nítido do pilar religioso da sociedade), o Doutor Ostermark (médico e dúbia figura de comunicação do Capitão com o mundo cientifico) e o soldado (personagem pequeno, mas metáfora das obsessões de Adolf sobre paternidade). Portanto, como apontaria Anatol Rosenfeld, “se é possível conhecer apenas o próprio íntimo, é escusado fingir que se conheça o de outrem”. Equivale dizer que, desse modo, os acontecimentos da ação surgem como faces projetadas do íntimo do protagonista. Especialmente quando “a mente se torna fraca e influenciável”, nas palavras do Doutor Ostermark. No século XIX, o patriarcado, que parecia uma rocha sólida e irremovível, podia se tornar frágil e facilmente abalável quando o assunto era paternidade. A figura masculina, detentora do poder familiar, (neste caso, Adolf, Capitão de Cavalaria e dublê de cientista), posiciona-se ladeado pelo pastor, o médico e o soldado, em quem procura apoio e cumplicidade. Já as figuras femininas (a esposa Laura, a filha Bertha e a criada Margret), que poderiam simplesmente significar personagens submissas, manipuladas por Laura, formam uma força silenciosa, capaz de subjugar o capitão e influenciar o pastor e o médico. Entretanto, de nada vale a força masculina diante da dúvida que a esposa inculca no marido: será Adolf o pai de Bertha? Tal questionamento transtorna o pai, numa guerra sem vencedores nem heróis. O que existe é o persistente evocar de fantasmas e lembranças que perturbam a ele e circunstância da qual Laura tira proveito. Adolf faz questão de assumir o controle sobre o futuro da filha, com a propostas de entregá-la a preceptores longe do ambiente da casa. Já a mãe insiste que ela própria deve conduzir a vida da filha, ainda que para isso se aproveite da vulnerabilidade masculina e agrave a saúde mental do marido. Aliada ao irmão (o pastor Jonas) e ao médico, ela urde um intrincado estratagema para tornar o marido incapaz de tomar decisões. A partir daí, o tema shakespeariano do homem perturbado por seus próprios fantasmas e pela “gota de veneno” pingada em seus ouvidos vai nortear todas as ações de Adolf. Como já dito, de forma bastante aristotélica, a ação se passa com austeridade em um único ambiente e supostamente num arco temporal fechado. São, como dizem alguns estudiosos, “sucessões de presentes absolutos” encadeados entre si. Apesar de poucas, existem algumas significativas construções narrativas sobre o passado – elas servem como suporte para a construção do comportamento das personagens centrais. Podemos saber um pouco sobre o passado da criada Margret, um tanto sobre a vida pregressa do casal (como se conheceram e se uniram) e uma parcela significativa da mocidade deste Capitão de Cavalaria. E, apesar de momentos em que a narrativa se afaste do tempo presente, por meio de memórias e reminiscências, a encenação de Regina Galdino se mantem firme na busca das desejadas coerência, agilidade e coesão da ação.
É muito interessante ler o estudo de Luís Paulo Silva em que ele avalia (a partir de Lukács) as questões relativas à transformação do homem antes, como herói da epopeia – inspirado e acompanhado em seus caminhos pelos deuses –, até a chamada “demonização progressiva” sofrida, segundo George Lukács, pelo herói do romance moderno: “a psicologia do herói romanesco é a demoníaca”. (Peter Szondi) De fato, o Capitão Adolf se aproxima mesmo do demoníaco e seu papel de herói chega perto da demonização. “Podemos dizer que seu aspecto demoníaco também surge como reflexo da cisão da unidade entre homem e mundo” afirma L.P. Silva, lembrando que o próprio Strindberg chega a declarar: “Desde minha infância busquei a Deus, mas só encontrei o Diabo”. O capitão é tomado por louco, ao ponto de sua própria esposa decretar: “Meu marido é um doente mental”. Portanto, se tal demência for compreendida como mundo particular e alheio à realidade factual, fica mais acentuada a lógica pessoal e subjetiva do personagem que, a cada cena, se encontra mais enredado em seus pensamentos e menos comungado com o mundo objetivo que o cerca. Agrega-se a tudo isso, os martírios pregressos do personagem. Sua intuição de que fez escolhas erradas e que, no momento em que se encontra, não há caminhos de volta ou reconstrução. A única esperança possível é o futuro representado pela filha, Bertha. Esta, de sua parte, sonha ser pintora e trafega entre sobressaltos causados pela avó doente – que a obriga a exercitar psicografias – e a criada Margret que a assombra com pensamentos místicos cristãos. Sim, religião e sociedade são temas caros ao autor e, em O Pai, são explorados de forma a tocar o sobrenatural. O que não é uma novidade, uma vez que Strindberg, há muito, transitava entre círculos de investigação mística e sociedades ocultistas da época. Existem sinais de que a jovem Bertha teria sido inspirada na pintora abstrata Hilma Af Klint cuja obra é, até nossos dias, cercada de mistério e fenômenos obscuros (leia texto sobre a pintora no blog do site). Há muito que se ler e estudar sobre August Strindberg e sua obra O Pai, que apresenta personagens complexas, ambíguas, nada idealizadas e com profunda dimensão humana. Criaturas que lutaram desesperadamente para entender uma nova sociedade que ainda era embrionária, com o desenho de novos papéis sociais para homens e mulheres.